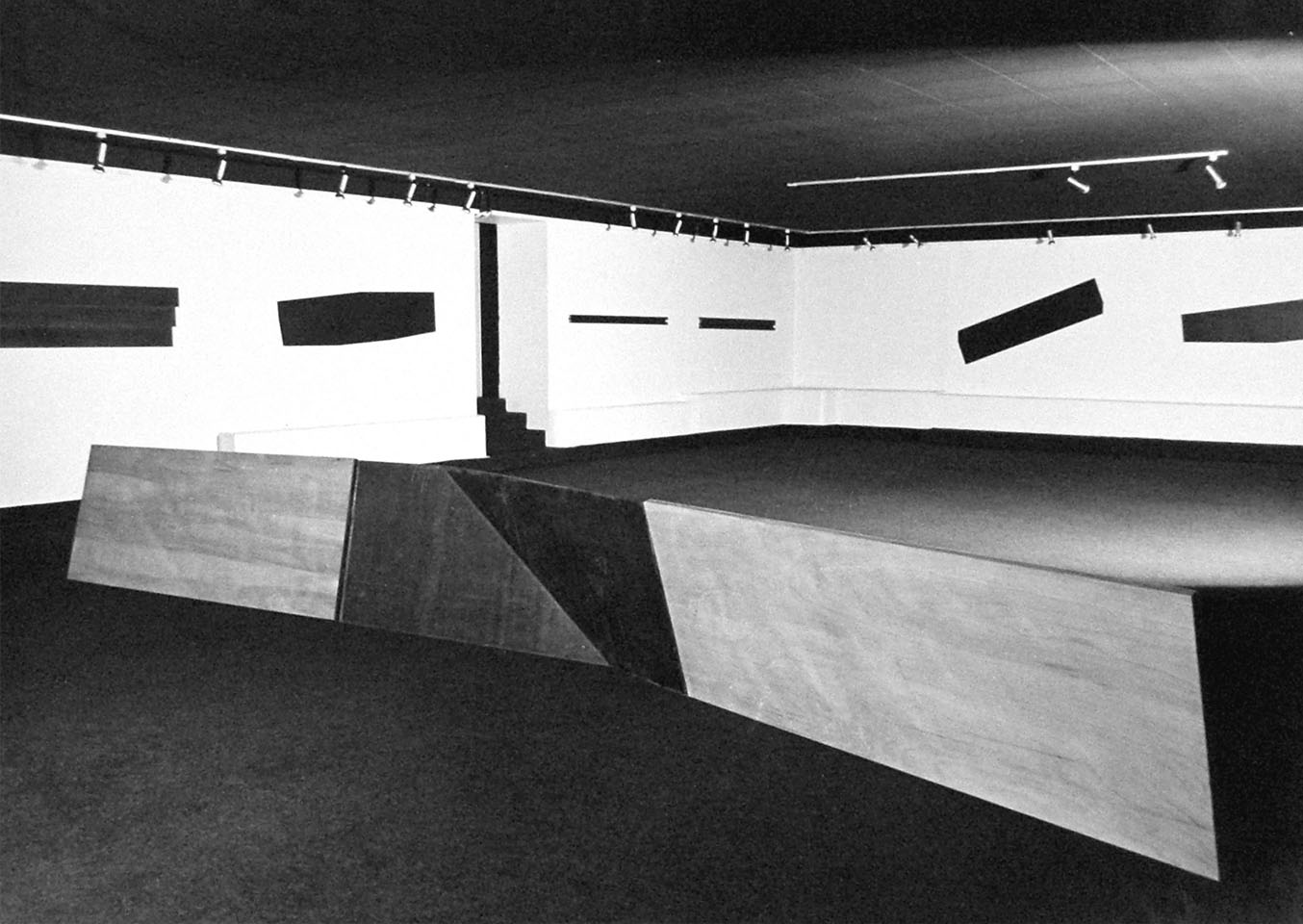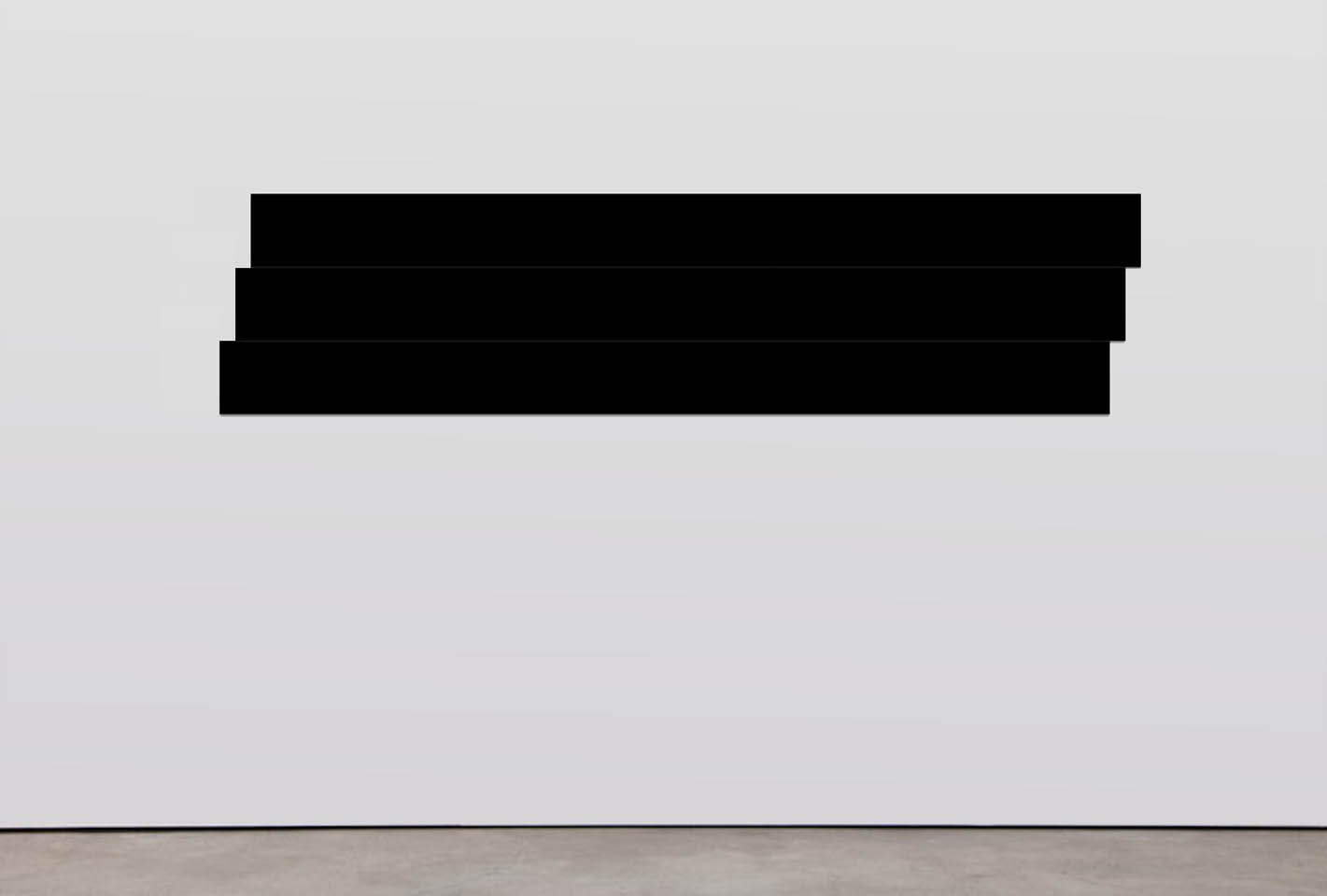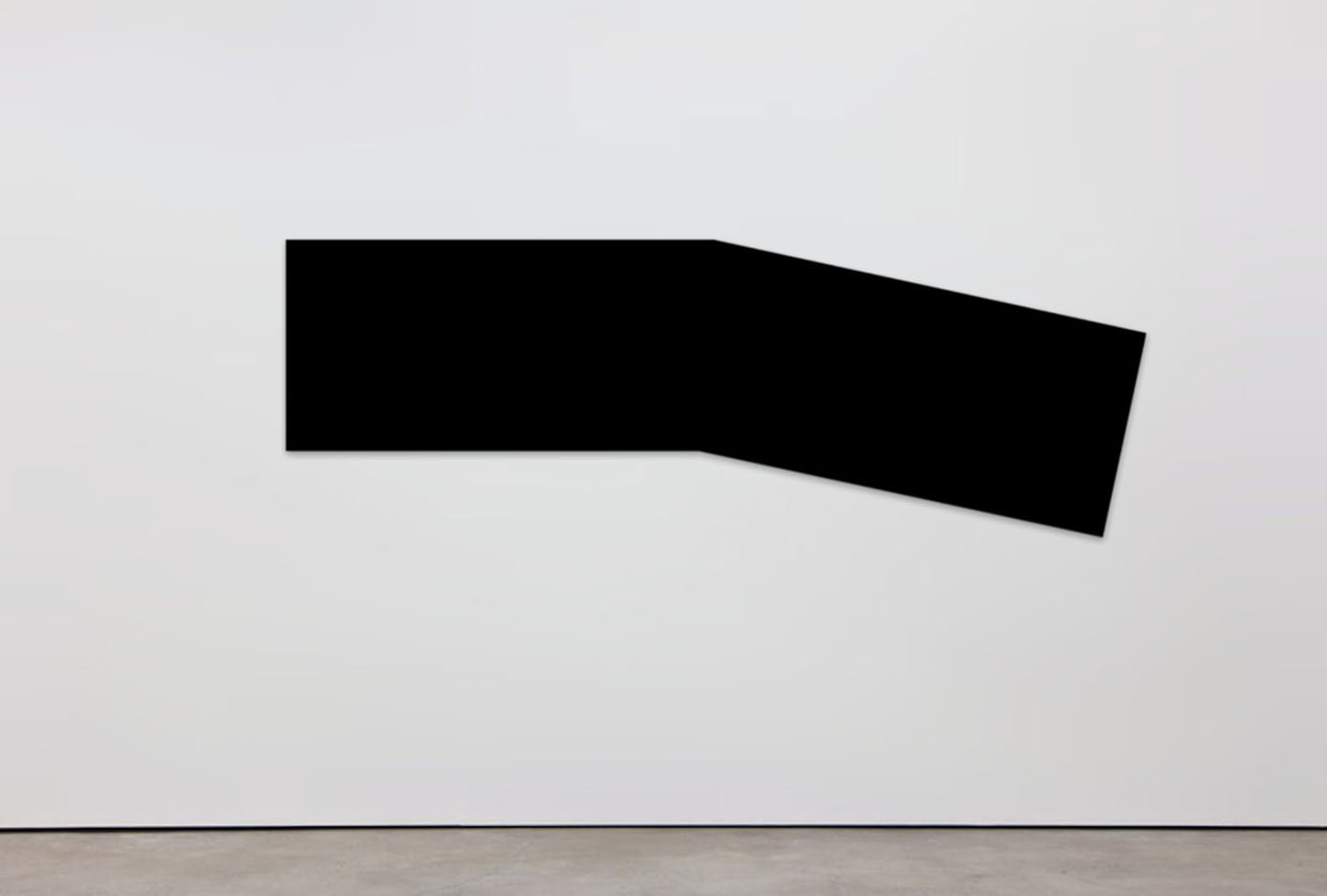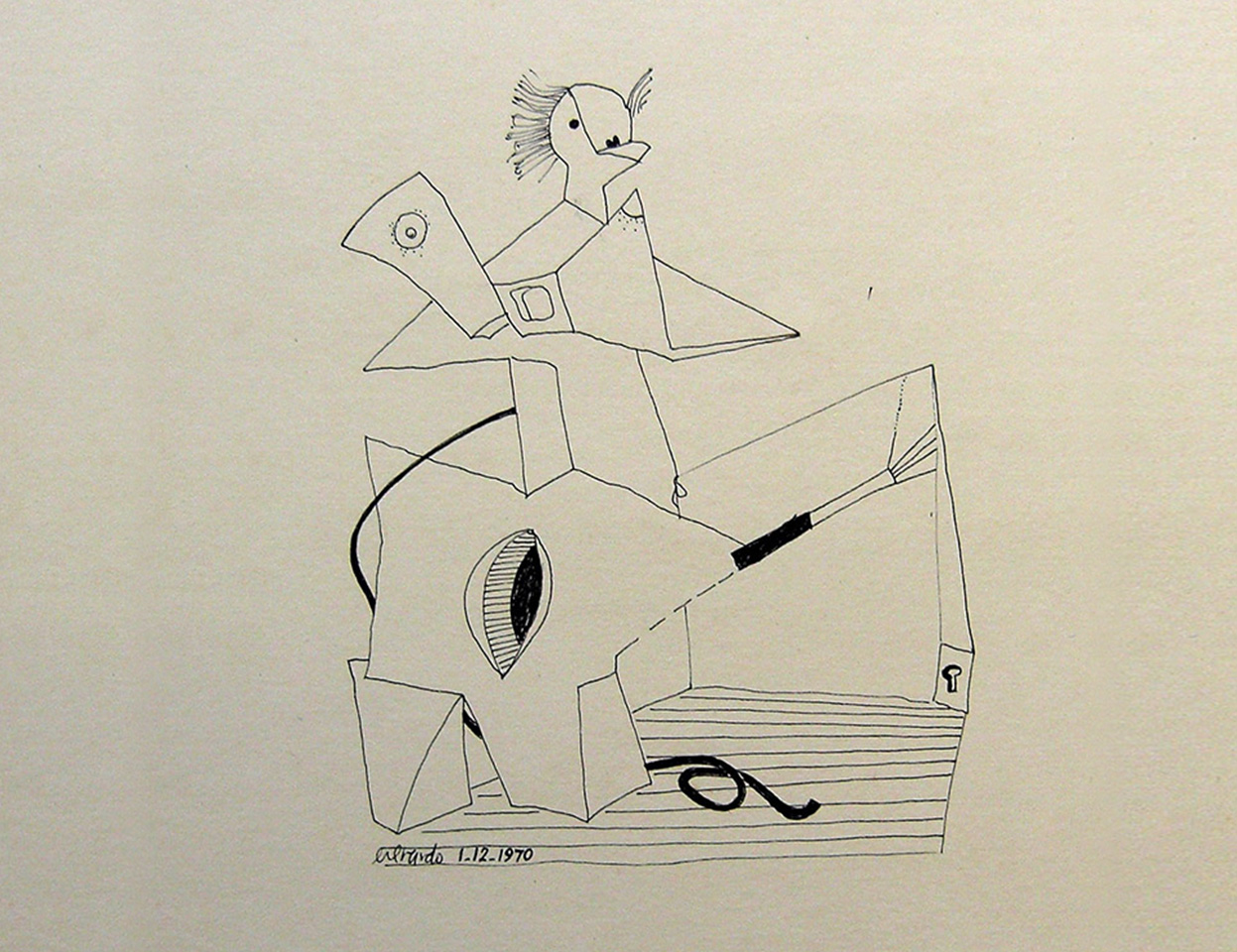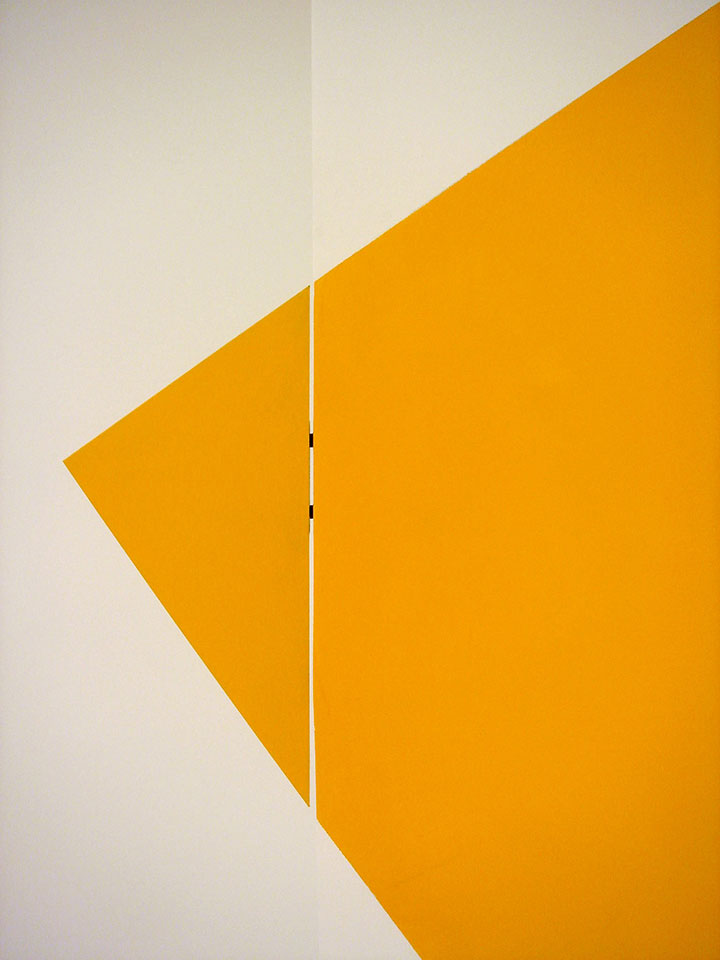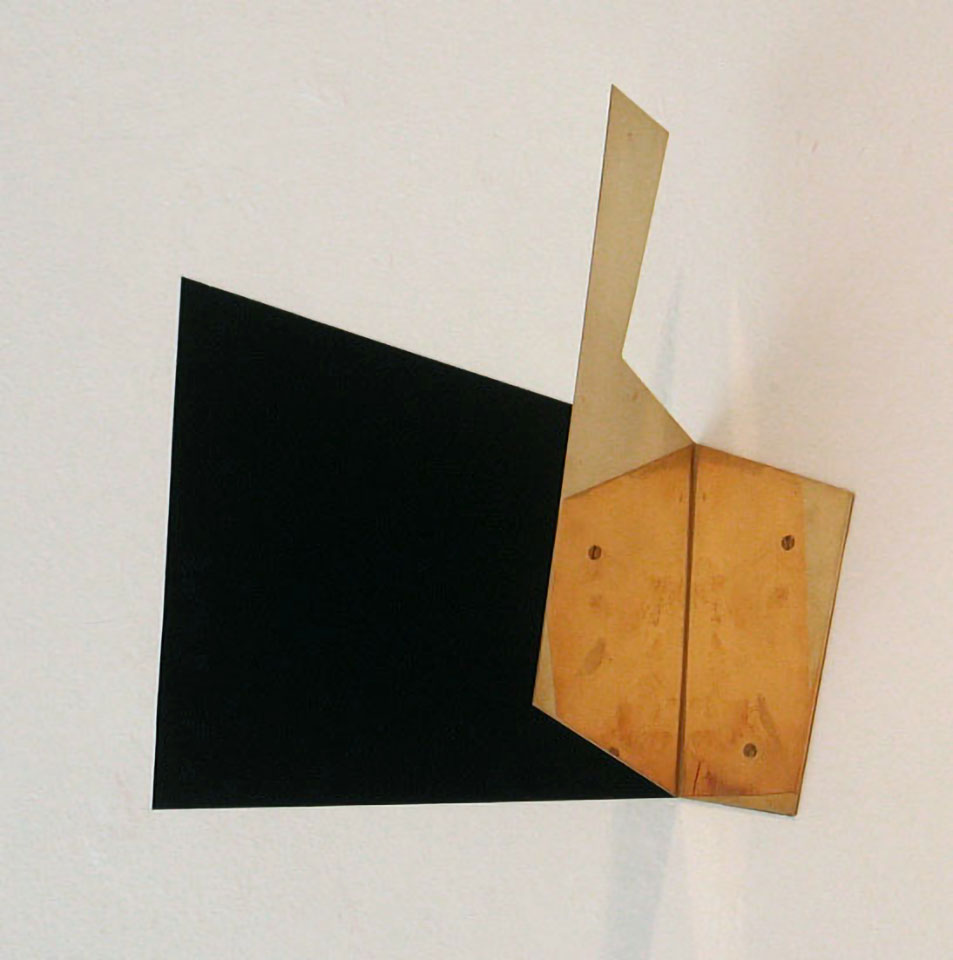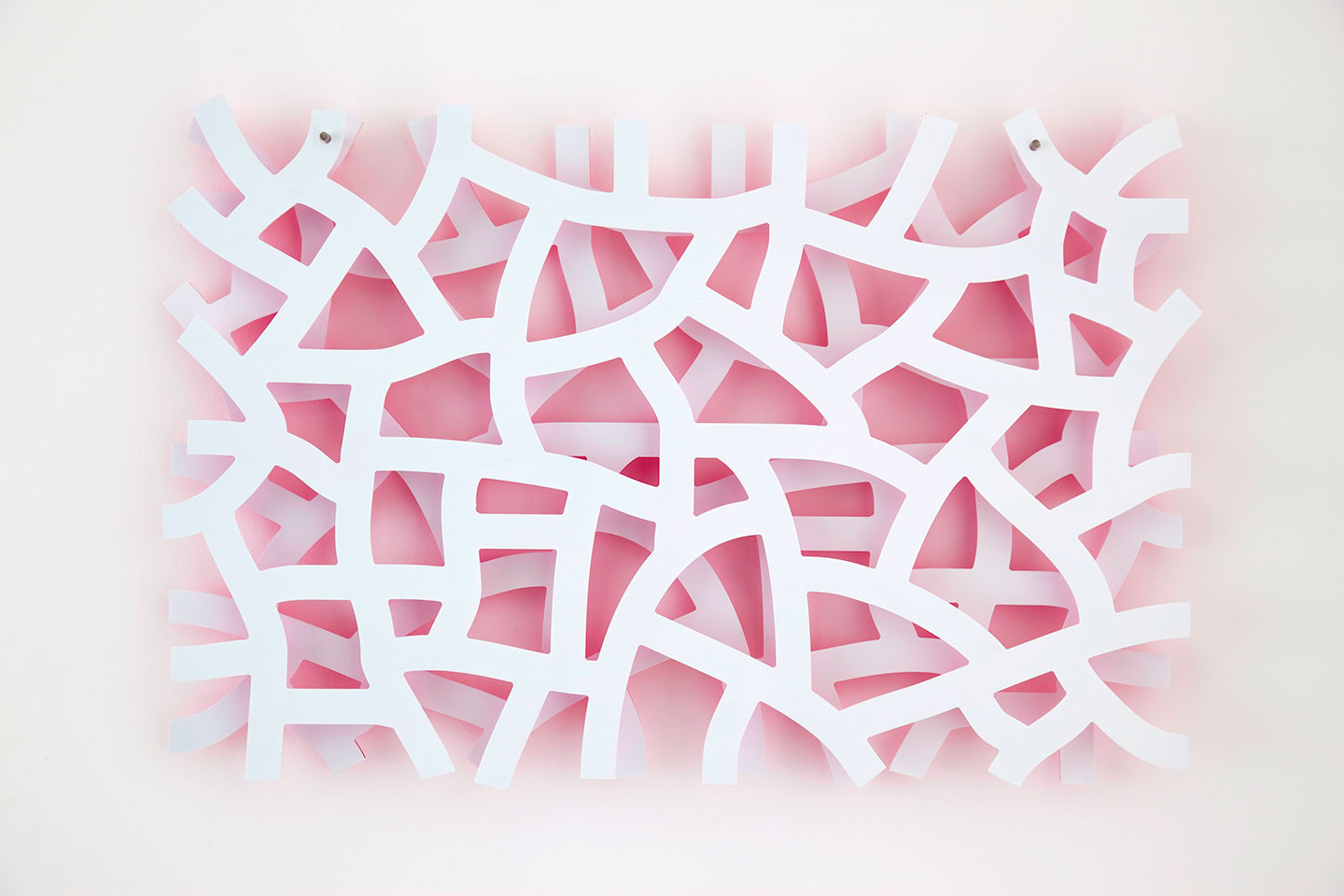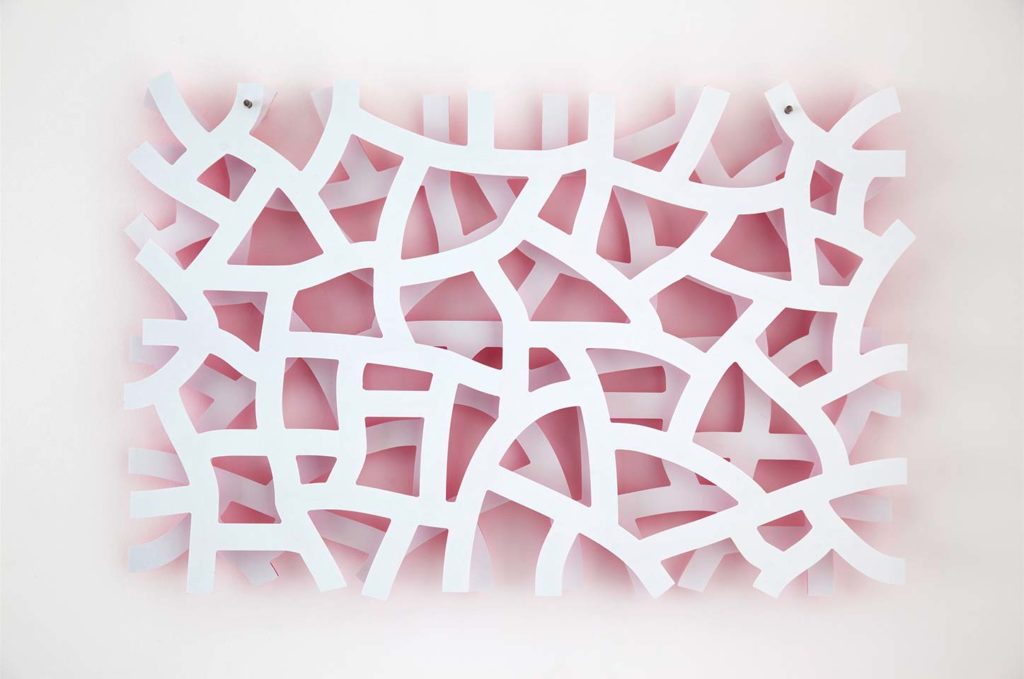Everardo Miranda
situ
ação de
arte
Espaço ABC Funarte | 1981
Armar uma situação de arte mas ao mesmo tempo não-artística parece ser o estranho objetivo do trabalho. Uma arte factual, voltada para sua lógica de construção, deseja questionar o conceito de arte.
Pretende mesmo colocá-lo entre parênteses para apresentar seus procedimentos com a necessária clareza.